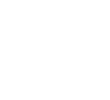O diretor e versionista Claudio Botelho escreve artigo sobre o filme ‘Les Misérables’ (Os Miseráveis), dirigido por Tom Hooper e, estrelado por Hugh Jackman, Russel Crowe, Anne Hathaway e Amanda Seyfried. O filme, com estreia marcada no Brasil para 1º de fevereiro, é uma comemoração dos 25 anos do musical de mesmo nome, de por Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg e Herbert Kretzmer. Claudio Botelho conferiu o filme em sua pré-estreia nesta segunda, 28.
LES MISERABLES É UM FILME MAIOR
Por Claudio Botelho (exclusivo para Site Möeller Botelho)
Os jornalistas especializados do mundo todo já teceram seus comentários profissionais e sábios sobre o filme LES MISERABLES. Portanto imagino que tudo ou muito, talvez até demais, já tenha sido dito sobre o filme. Não é um filme pra passar em branco. Mas como não sou jornalista e nem crítico, estou sentado aqui, menos de 12 horas após o término da sessão de ontem, e ainda não me livrei da sensação de ter assistido a um dos melhores filmes (não somente musicais) dos últimos anos.
Senti algo parecido recentemente apenas com CHICAGO, o outro musical que saiu da Broadway para o cinema em tempos recentes e que, no meu entender, fez a transposição com a mesma força que Les Mis faz agora.
Uma das críticas contra o filme que ouvi aqui e ali é sobre o excesso de closes e super closes. Fico me perguntando, eu que não sou crítico: por que isso é um problema? Isso na verdade faz toda a diferença no filme. Os planos abertos iniciais de cada cena vão-se fechando no rosto do ator até que aquilo que é música preambular, os recitativos da obra, torna-se a canção em si, e aí é tudo em close mesmo. E é de cortar o coração! A performance dos atores, em super close e sem dublagem (o filme tem som direto em praticamente todos os seus números mais importantes) traz as interpretações para o colo da gente, e do colo saltam para o coração, e é nó na garganta o tempo todo. Na da gente, que está vendo, e certamente na dos intérpretes, pois, no super close você garante que aquilo não foi feito com truques, foi de verdade.
O exemplo mais tocante é sem dúvida Anne Hathaway cantando a emblemática “I Dreamed a Dream”. O número não tem um corte sequer de câmera; acompanhamos o sofrimento dela par e passo, e súbito a história da canção adquire uma camada de entendimento que, em performances anteriores, não estava em primeiro plano. Toda a história pregressa da personagem, mãe solteira abandonada pelo amante logo após a noite da concepção, que no romance de Victor Hugo é detalhada em páginas, aqui salta na frente da canção em dois ou três versos apenas, mas finalmente você entende (dentro da canção) o amor que ela, Fantine, teve por aquele que lhe roubou a juventude e a transformou em quem ela é hoje. Nenhuma interpretação teatral da música, vista por nós no máximo à distância de uma primeira fila de teatro, ressaltou tanto este aspecto da canção já tão popular. A nova interpretação visceral de Anne Hathaway praticamente reescreveu o número.
Há diversos momentos assim no filme. As grandes canções são quase todas feitas sem cortes algum de edição, você vê o ator ali entrando construindo o número musical sem qualquer possibilidade de truque aparente, porque a câmera vai e invade o número, cola-se ao rosto do intérprete e só o larga quando a última nota é cantada. Hugh Jackman, que nem tem a voz idealizada do Jean Valjean que estamos acostumados a ouvir em gravações e teatros, supera isso com uma verdade na angústia de ser o “homem errado” durante toda a sua vida, e entrega os números como um capitão do filme, a estaca central onde se apoiam todas as outras interpretações. Sabe-se que foi por insistência dele que a produção abraçou a ideia de trabalhar com som direto nos sets, o que é revolucionário. Não sei mais se terei saco de assistir a musicais em cinema com o sistema anterior (grava-se a canção em estúdio e depois o ator dubla na cena). Vai ficar complicado aceitar menos do que vi ontem.
Outro detalhe que, na minha opinião de não crítico, muda radicalmente minha relação com esta obra é a nova orquestração. LES MISERABLES foi concebido para o teatro como esta coisa semi-detestável que nos anos 1980 convencionou-se chamar de “ópera-rock”. Todos eles, Les Mis, Missa Saigon, O Fantasma da Ópera, Evita, J.C. Superstar (alguns da lista eu detesto), todos ganharam a cena obrigatoriamente com orquestração que misturava sons de música erudita tradicional (ópera) com horripilantes teclados (rock), uma mistura que para o meu gosto particular sempre foi insuportável. Trabalhei na como letrista na montagem brasileira de LES MISERABLES em 2001, e tive a honra de faze-lo ao lado dos compositores que aqui estiveram, dos produtores e criadores originais, mas confesso que embora achasse os temas lindos, nunca me desceu a quantidade de sons eletrônicos misturados à cena romântica de Victor Hugo e do século XVIII. Mas o filme jogou fora todos os teclados e a orquestração primorosa transforma a música no que ela é: um encanto atrás do outro. Ouvem-se acordeons de verdade naquela Paris conturbada, não se escuta uma guitarra sobrevoando as barricadas dos estudantes, é tudo música de concerto, e finalmente LES MISERABLES larga o posto de “musical bonito mas com um pé no brega-cabelão”, e passa para a prateleira onde guardamos Sondheim, Richard Rodgers e outros de primeira linha.
Outra coisa que o filme ressuscita é o parentesco com OLIVER, o grande musical inglês baseado em Charles Dickens, para mim um dos melhores musicais criados na Inglaterra até hoje. Não por acaso, Cameron Mackintosh, o gênio produtor por trás de Les Mis e tantos outros sucessos, começou sua carreira como ator na primeira montagem teatral de OLIVER. Sua obsessão por este musical o levou a produzi-lo no palco em algumas outras montagens memoráveis. E agora que tem a oportunidade de fazer sua primeira produção para o cinema, ele explode em todo este amor pela obra de Lionel Bart: o filme dialoga o tempo inteiro com a versão cinematográfica do filme OLIVER (vencedor do Oscar de Melhor Filme em 1969), dirigido por Carol Reed. Há cenas inteiras em LES MISÉRABLES, especialmente as de multidão e de rua, que são definitivamente “oliverianas”; o casal Thenardier são dois “Fagins” agindo em dupla, e o cenário deles em sua aparição inicial é quase uma reprodução do reduto de Fagin em OLIVER; o menino Gavroche, marginal “do bem”, é o Artful Dodger de Paris; e assim por diante.
Meu estado é de graça. Minha crença de que musicais de qualidade podem arrastar multidões aos teatros e cinemas sem fazer concessão ao popularesco e à “caixa de sucessos” saiu fortalecida. Mais que isso, a certeza absoluta de que teatro, arte, musicais, não têm pátria, não são regidos por ufanismos e proselitismos culturais. O que vi ontem é um musical baseado num clássico francês, escrito por dois compositores franceses, re-traduzido para o inglês e tornado famoso na em Londres, depois da Broadway, depois no mundo inteiro, que conta uma história passada em Paris com personagens gauleses, e… atinge o coração de todos nós. É um filme que faz a gente se orgulhar de trabalhar, mesmo que modestamente, no ramo.
Claudio Botelho é diretor, ator e versionista de teatro musical.