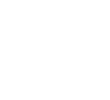À frente do bom elenco, José Mayer, Alessandra Verney e Ruben Gabira abrilhantam uma das obras mais emblemáticas de Cole Porter
O jornalista, stylist e diretor de arte Alexandre Schnabl do site Ás na Manga , escreveu uma minuciosa crítica para Kiss Me, Kate – O Beijo da Megera.
Confira!
A despeito de sua qualidade cênica e musical, “Kiss Me, Kate! – O Beijo da Megera“, em cartaz no Teatro Bradesco, no Rio, encerra em sua concepção a mitologia em torno de seu criador, Cole Porter, e a mística entre a junção do seu trabalho e o de William Shakespeare, sobre a obra do qual – “A Megera Domada“ – se inspira em parte o libreto de Sam e Bella Spewack. Quando a montagem estreou em 1948 na Broadway, Porter amargava o pão que o diabo amassou vindo de uma má fase, sem nenhum sucesso recente e deprimido pelo acidente a cavalo que lhe custaria futuramente a amputação de uma das pernas. Cá entre nós, para piorar os Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial deviam ser um porre para quem viveu os anos loucos frequentando o grand monde na base das borbulhas de champanhe, numa época em que qualquer rega-bofe se mantinha graças à genialidade de seus personagens, ao rapé e à cocaína liberadíssima, ainda vendida em farmácias. Quem conviveu com Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Zelda e sua turma nos badalos dos anos 1920 não devia achar mesmo a menor graça em dar de cara com Betty Grable e Marilyn Monroe numa confraternização duas décadas após, apesar das curvas de ambas compensarem a perda da cintilância art déco.
O compositor ainda deu a sorte de adentrar os thirties bem no comecinho, antes de a moralidade dar as caras e encaretar tudo (inclusive o showbiz e o cinema) com artifícios concebidos por um neurótico FBI, como o Código Hays. Foi nesse mundo technicolor bem mais carola que se deu o sucesso retumbante dessa nova empreitada de Porter nos palcos (1070 apresentações, “algo monumental”, segundo a dupla responsável pela adaptação brasileira, Charles Möeller e Claudio Botelho). No fundo, tudo isso engloba o tema da superação o qual os norte-americanos tanto veneram, amplificado pelo fato de que, nesse caso, trata-se da volta por cima de uma das mais importantes estrelas da música popular dos EUA, com importância ímpar na cultura mundial.
Coube aos dois encenadores no Brasil, após se encantarem com uma remontagem vista em Nova York em 1998, por de pé “Kiss Me, Kate por aqui. O resultado é delicioso e a expertise de Möeller & Botelho é inegável, ainda que a questão maior do enredo tenha envelhecido. Afinal, trata-se de um musical pré-liberação feminina, escrito num período anterior à revolução de costumes. As mulheres só queimariam sutiãs em praça pública vinte anos depois e ainda imperava no imaginário geral a presença da potranca submissa ao homem.
Ainda por cima, corresponde à virada dos 1940/50 a missão de repovoar o planeta após a tragédia da guerra (obaby boom) e portanto a mulher-objeto a ser subjugada pelo maridão continuava em cena, dando as cartas numa sociedade patriarcal, em aspecto similar ao de sua condição no Renascimento, quando o bardo inglês escreveu sua obra-prima. Tudo isso, claro, ficou para trás no mundo pós-moderno atual, onde, se bobear, é a mulher quem manda machos semi-castrados fazerem a fila para escolher com qual deles irá copular. Esse sabor de algo que ficou no passado predomina na encenação, mas, fazer o quê? É a tônica da história… Nada, contudo, que prejudique o brilho dessa realização.
Obviamente, o paralelo entre o ex-casal de atores fictícios (mas inspirados em figuras reais) – Fred Graham (José Mayer) e Lilli Vanessi (Alessandra Verney), que vivem às turras tanto nas coxias quanto no palco enquanto encenam “A Megera Domada” – e seus respectivos personagens na peça dentro da peça – Petruchio e a tempestuosa Catarina (Kate, em inglês) – vem envolto em aroma de naftalina, mas o todo permanece gostosíssimo de se ver. Para começar, o conjunto da obra impressiona. Claudio Botelho é como um ótimo vinho: a cada ano ficam melhores as suas versões. Não é nada fácil converter para o português pérolas como“Another Opening, Another Show“, “So in Love” ou “Too Darn Hot“, algumas das melhores canções de Porter, criadas em torno de esplêndidos jogos de palavras na língua inglesa.
Por outro lado, o apuro cênico de Charles Möeller se sofistica com o passar do tempo. Impressiona ver como ele, que começou a carreira completamente envolvido com os componentes visuais de uma encenação, consegue em cada nova realização demonstrar exímio controle na batuta dos atores, transcendendo a direção de cena.
Com a participação de costumeiros colaboradores (Alonso Barros na coreografia, Paulo César Medeiros na luz e Marcela Altberg no casting, todos ótimos), ele tira proveito de uma sintonia que se intensifica produção após produção. O resultado encanta o público e vale a ressalva de que o bom cenário de Rogério Falcão (outro parceiro habitual da dupla) exagera um pouco na bidimensionalidade dos painéis em trompe l’oeil. Falta um pouquinho mais de tridimensionalidade nos cenários passados no backstage para a cenografia contribuir na íntegra para a leitura de direção de arte cinematográfica, coisa que os ótimos figurinos de Carol Lobato conseguem. Com as caracterizações, vê-se a peça e lê-se cinema, aspecto que se completa com o maravilhoso visagismo de Beto Carramanhos.
Para entender isso, é importante acompanhar o raciocínio: transposto para a telona cinco anos após sua estreia no palco, “Kiss Me Kate” (idem, de George Sidney, MGM, 1953) é um dos maiores sucessos da Metro-Goldwyn-Meyer, em boa parte pela excelência da trupe escalada para o trabalho: além da música de Cole Porter, Cedric Gibbons comandou a direção de arte, Walter Plunkett arrasou no costume design, Saul Chaplin compareceu como diretor musical, Hermes Pan assinou a coreografia. Tinha até um revolucionário Bob Fosse, na flor dos vinte e poucos anos, em seu segundo papel no cinema e também atuando como coreógrafo (não creditado). Com um time desses, dificilmente um trabalho desse iria para o brejo. A lógica era que acabasse se tornando um dos musicais mais representativos da Hollywood dessa década. Por isso, a opção por certo viés cinematográfico nessa adaptação brasileira se mostra um acerto e é por isso que o exagero nos recursos cenográficos bidimensionais destoa, ainda que só um pouquinho.
No elenco, nem é preciso dizer que a bem-dotadíssima Alessandra Verney é destaque. Não daria para escalar para protagonista alguém que não tivesse gogó realmente privilegiado, já que seria inevitável a comparação com Kathryn Grayson, a soprano cantora de ópera que viveu Kate no cinema, uma das mais poderosas vozes femininas na Hollywood dos anos 1940/50. Verney tem a vantagem de que, além dos vocais surpreendentes, tem carisma ímpar e é uma leoa atuando.
Na contrapartida, José Mayer prova que sua ótima presença em “Um violinista no telhado“ (2011) não foi acidente isolado. Quem está acostumado a vê-lo nas novelas globais poderia à primeira vista acreditar que sua participação num musical desse calibre é mera estratégia para chamariz de público. Ledo engano. Se seuphysique du rôle cai como uma luva no papel de Fred/Petruchio, é imprescindível ressaltar que, além da boa interpretação, com comicidade e canastrice (que o personagem exige) na exata medida, sua afinação e potência vocal são o ponto alto da peça. Ele arrasa, sobretudo se também comparado com outro talento das telas, Howard Keel, o barítono que deu a vida ao personagem na telona, talvez o melhor timbre do musical hollywoodiano em todos os tempos. Mayer já vale sozinho o ingresso.
No bom elenco, vale ressaltar Fabi Bang como Lois Lane. Ela canta e dança bem, é divertidíssima, a peruca ajuda e ainda levanta bem as pernas. Não é fácil assumir um personagem que já foi de Ann Miller, famosa peloleg power. Jitman Vobranovski, Lana Rhodes e Marcel Octavio abrilhantam a peça, enquanto Mariana Gallindo mostra que não existe papel pequeno. Se ela pode ser destaque num tipo emblemático como o de Elke Maravilha, em “Chacrinha – o musical“, agora a artista continua se distinguindo como uma das atrizes-coristas da companhia de teatro. E Thiago Garça não se prende à beleza física para dar cabo do trabalho. Além da limpeza de linha na hora de dançar, suas caras e bocas são perfeitas num espetáculo que tem a dose certa de vaudeville. Completam a boa presença Chico Caruso e Will Anderson, caricaturais sim, mas como manda o figurino. O público adora!
Mas, entre todos os destaques, o veterano Ruben Gabira é fato. Ele continua sendo a cereja do bolo em qualquer espetáculo do qual toma parte, seja na proporção de “Kiss Me, Kate” ou de outro mais modesto em termos de produção, como “Lapinha“ (2014). Como sempre, ele engole cenas e merece cada palma. De preferência, muitas. E, como Paul, justifica plenamente a presença encabeçando o número dançado mais arrojado da montagem, “Too Darn Hot”.
Fonte: Site Às na Manga: 22/11/2015.